
Era uma vez um menino chamado Paulo. Ele era pequeno, preto e suava a camisa no sol escaldante das tardes de outubro em uma cidade grande e cinza para vender seu beijo-quente aos transeuntes menos apressados (alguns ainda gostavam de beijo-quente, ou compravam por dó mesmo).
Paulo era o caçula de uma família pobre. Ele morava num bairro afastado onde não tinha praça, nem rio, nem rua calçada, nem ônibus, nem escola, nem hospital, nem farmácia, nem supermercado, nem alegria, nem festa, nem água encanada, nem nada.
Mas Paulo era brasileiro. Era um pretinho forte, apesar do café magro que sua mãe servia com amor e em silêncio, logo às seis da manhã, quando podia dividir com o filho alguns poucos minutos em paz, antes do beijo quente, entregue com recomendações carinhosas.
Já de posse da mercadoria, Paulo saía. Quando não encontrava o Zezim, ia sozinho mesmo. Reparava nos homens e mulheres que trabalhavam como domésticas, motoristas, seguranças, padeiros, prostitutas, enfim, todos os que vendiam barato a alma na cidade grande e chegavam cansados do trabalho noturno. Paulo seguia pensativo, por dentro de si, e quando ia se aproximando dos bairros asfaltados, já entrando na cidade, reparava as coisas, que pareciam correr numa velocidade diferente, as ruas boiavam numa atmosfera morna, esquisita. Era verão. O menino se esquecia do beijo, passando pelas calçadas, desviando das árvores, ouvindo atento o barulho dos motores, sentia o odor de escapamentos, eram os homens em seus carros, saindo para trabalhar ou levar os filhos a escola ou as mulheres ao shopping. Pensava.
Paulo dava tapas nos postes e placas, imitava o barulho dos carros, chutava as tampinhas que sobraram da cerveja de ontem em frente aos bares. A cidade era bonita, pensava o menino de toca de lã na cabeça e tabuleiro de alumínio amassado nas mãos. Achava que as meninas que via passarem depressa por ele pareciam com bonecas, iguais àquelas que via nas vitrines das lojas com homens de cara fechada na porta. Que aqueles prédios não podiam durar muito tempo assim, em pé, sem cair. Um dia cairiam. Pensava nas casas pequenas e sujas da sua rua. Pensava nas brincadeiras sem brinquedos da sua turma. Pensava no Zezim, que apanhava do pai quase todos os dias. Tinha sorte, seu pai era bom. Quando estava em casa não batia nele, nem nos irmãos, nem na mãe. Ficava calado num canto, cansado, com um pequeno livro na mão. Vez em quando olhava pro asfalto lá em baixo e ficava assim, longe, mas sem sair do lugar. Paulo pensava que ele estava querendo ir embora, mas não ia.
Gostava do pai, chamado José. Era pedreiro. Ensinava os seus irmãos a segurar a colher enquanto dizia que o trabalho era pesado, mas que Deus ajudava quando se fazia corretamente. Era um homem simples. Queria ser como o pai. José.
Paulo era um menino. Brasileiro. Morreu hoje, na cidade grande e cinza, onde vendia a alma em pequenos pacotes, a cinqüenta centavos, num tabuleiro de alumínio amassado.
E ninguém soube. Mas ele morreu hoje. Morreu hoje.
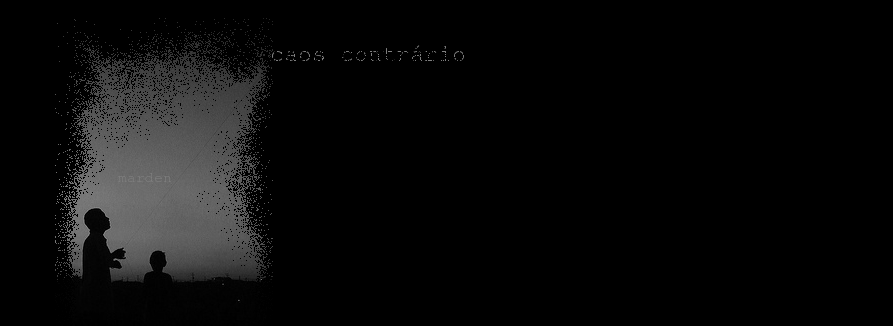

3 comentários:
Sr. Assis
Deixando de comentar o texto (que quase sempre é muito bom) neste comentário quero destacar os títulos e as fotografias... Está a mandar muito bem!
bjs
srta assis
Tudo bem, vou comentar o texto que de tão comovente e sincero chega a doer... É muito bonito, me faz lembrar das estórias que eu lia na infência. A diferença é que elas tinham um hipócrita final feliz!
srta assis
Você ja pensou em ser escritor quando crescer???
Seria bom comprar livros teus para você autografar!
rsrsrs
bjsss
srta assis
Postar um comentário